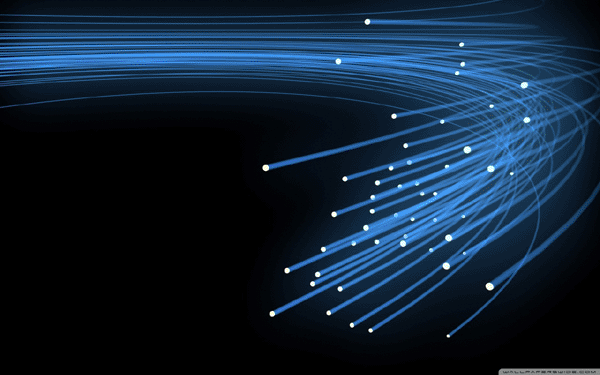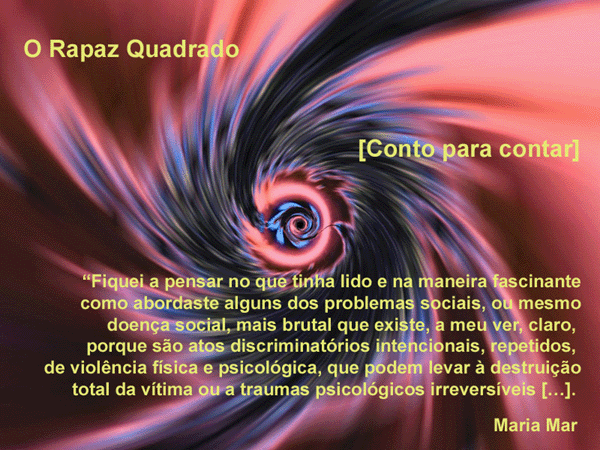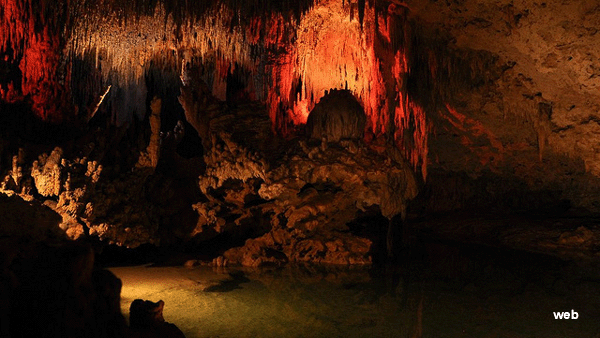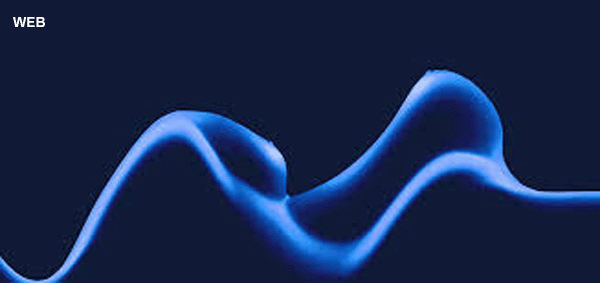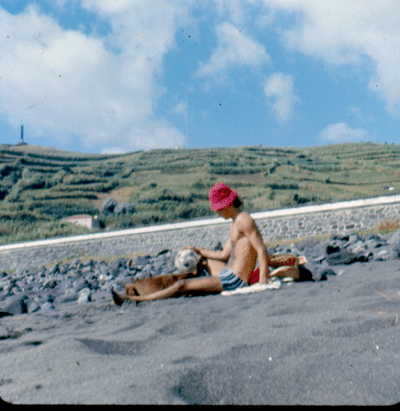|
Sempre tive
o passatempo da fotografia, do vídeo e do som, o que me levou, ao longo da
vida, a ter em casa um estúdio amador sempre atualizado. É parte inseparável
da ocupação dos meus tempos livres. A certa altura, a sorte sorriu-me e pude
comprar uma vivenda num empreendimento no Alentejo, com apenas umas quantas
moradias, num local isolado. Cada vivenda dispunha de dois pisos. No
primeiro, uma sala avantajada, cozinha completa e funcional, um quarto amplo
e outros dois razoáveis. Duche de massagens e Jacuzzi, piscina e apoios,
além de uma churrasqueira. No piso inferior, uma pequena adega, um
compartimento grande, que aproveitei para escritório e biblioteca, e uma
área, equivalente ao resto da casa, onde montei um estúdio completo de nível
profissional, incluindo um pequeno palco, com cenários amovíveis, para foto
e vídeo. Câmaras de vídeo, máquinas fotográficas, gravadores, leitores e
amplificadores e dois computadores, modernos e potentes, com monitores
panorâmicos, asseguravam a captação, armazenamento e tratamento da imagem e
som.
Não usava o estúdio
profissionalmente mas, aposentado antecipadamente e com disponibilidade de
tempo, ficava pela casa do Alentejo alguns dias seguidos, sozinho ou
acompanhado e, por vezes, dando uma ajuda a amigos que necessitavam de
produzir fotografia ou um qualquer vídeo. Quase sempre terminando a festejar
o resultado, com um bom almoço ou jantar num restaurante da vila mais
próxima, que distava ainda alguns quilómetros, e depois, já em casa, com
uísque, gim, etc.. A confusão que ficava na sala e na cozinha e o lixo
armazenado num pequeno contentor no exterior eram da responsabilidade da tia
Francisca, uma alentejana de uma aldeia próxima. O marido, o compadre João,
tratava do jardim que ladeava o acesso à vivenda, desde a entrada até ao
telheiro, onde se podiam parquear cinco automóveis, e ainda seguindo em
rampa descendente pelo lado inferior da casa, com um carreiro lajeado de
acesso à casa das máquinas da piscina. Flores, plantas, algumas árvores e
muita relva, onde os “guardas” se rebolavam e faziam os seus exercícios de
prontidão para a segurança dos bens do dono. Eram o Tico e o Teco, puros
rafeiros alentejanos, alimentados na minha ausência pelo compadre João e
pela tia Francisca. Esta tinha sobretudo a incumbência de limpar a casa
antes e após a minha estadia, para que tudo fosse reconduzido ao seu lugar e
necessário asseio.
Quanto estava ali sozinho,
dedicava-me a escrever ou a produzir e a armazenar os meus próprios vídeos e
fotos, sem um projeto específico. Mas, usava alguns dos vídeos e imagens no
Facebook e, em particular, na minha página eletrónica, bastante visitada.
Nela tinha também os meus escritos, textos soltos, romances, poesia...
Enfim, um repositório bastante eclético, como eu próprio. Por isso mesmo,
tentava impor-me alguma organização. A escrita acontecia normalmente na área
do escritório, onde tinha também dois computadores, não tão sofisticados,
com dois ecrãs. Um mais voltado para o mundo exterior e o outro,
essencialmente, reservado aos meus escritos, o que, muitas vezes, fazia em
simultâneo. O meu Facebook, apesar de poucos amigos pessoais, com quem ia
convivendo com alguma frequência, tinha quase dois mil amigos virtuais, que
iam sendo adicionados um pouco ao acaso ou através de outros amigos. Claro
que, nem aqui nem na minha página pessoal, dava a entender que tinha um
estúdio e muito menos que me predispusesse a ajudar alguém em fotografia e
vídeo. Só muito ocasionalmente, em conversa de Chat, revelava essa minha
faceta e, mais raramente ainda, oferecia ajuda nessa matéria. As conversas
decorriam normalmente sobre a escrita, em particular a poesia, que ia
publicando em vários grupos de que era membro. Dos comentários surgiam, por
vezes, novos amigos.
Foi assim que conheci a
Catarina, depois de trocarmos impressões sobre um poema dela e um meu,
publicados apenas com dois segundos de diferença, no mesmo grupo de poesia.
Era uma jovem universitária que fazia o mestrado em Cultura e Comunicação.
Os encontros virtuais sucederam-se, abordando temas genéricos, em foco e,
com o tempo, um pouco mais íntimos, descobrindo que vivia, já há alguns
anos, com uma outra jovem, também a fazer o mestrado em Ciências da
Documentação e Informação, que me apresentou. Cristina era bem menos
expansiva e mais voltada para o ensaio e conto, dando-me a conhecer alguns
ao longo dos nossos contatos. Os textos de ambas eram de grande qualidade,
não me cansando de as elogiar, incentivando-as a publicar. Mas, apesar da
paixão pela escrita, tinham o sonho comum de serem modelos. A avaliar por
algumas fotos enviadas, considerava-as mulheres bonitas, com medidas que
pareciam encaixar-se no padrão, mas daí a serem modelos ia uma grande
distância. Naturalmente, e por cortesia, condescendi que reuniam todos os
predicados, aconselhando-as a tentar. Os contactos foram-se mantendo,
periodicamente, permitindo-nos conhecer um pouco melhor. Tinham-se
encontrado na Faculdade, logo após experiências de namoro traumatizantes e,
rapidamente, fizeram amizade. Daí a descobrirem que gostavam uma da outra
para além da amizade, até resolverem viver juntas, tinha sido um processo
gradual, mas tão natural como as coisas simples da vida. Assumiam-se como
lésbicas, mas nenhuma tinha a certeza de não voltar a encontrar prazer
sexual com um homem, embora tal não estivesse no seu horizonte. E isso não
perturbava a sua relação, já que a entendiam aberta e assente numa amizade
inabalável.
Estas conversas só eram
possíveis porque respeitava a opção de Caty e de Cris e o fosso de idade
entre nós parecia suficiente para afastar qualquer interesse delas ou
veleidade minha. Aliás, já havíamos comentado isso. Eu tinha 56 anos. Elas,
apenas com 25 e 26, bem poderiam ser minhas filhas. “- Mas não te vamos
tratar por papá ou paizinho, fica descansado!”. E ainda bem, porque isso
irritar-me-ia. Com esta confiança mútua, passámos a conversar pelo Skype.
Inicialmente, pensei que poderia bem ser o termo desta relação que me
agradava bastante, mas fiquei embevecido pelos elogios de “- Estás muito bem
conservado, nem parece teres ter 56 anos...”. Apesar da bondade do
comentário, perdi um pouco o jeito, mas retomei a postura. Estava com camisa
e calças de fato, porque ainda não mudara de indumentária após a chegada do
trabalho. Elas, informais, vestiam t-shirts compridas e tinham cabelos
curtos, com pontas irregulares, o que lhes emprestava um ar ainda mais de
miúdas crescidas. Ambas morenas, embora Cris um pouco mais clara, eram de
uma beleza invulgar. Fiquei alguns segundos apenas observando, incapaz de me
alongar para além de “- Obrigado. São muito simpáticas!”. Elas perceberam o
meu pouco à-vontade e desviaram a conversa para contar as peripécias do dia,
que havia começado com a Caty a vociferar que lhes haviam roubado o carro
quando, afinal, tinha ficado estacionado na rua ao lado...
Era a Caty quem, normalmente,
falava, com a Cris ao lado, lendo ou escrevendo ou sentada no sofá, também
lendo e vendo televisão. Dizia pouco de mim, mais por feitio mas também por
precaução. Como os sentimentos navegam pelas palavras e neste caso também
pelo olhar, fui revelando algumas coisas de mim, como a casa no Alentejo e o
estúdio que ali montara. Falei do Tico e do Teco. Do jardim e da piscina,
mostrando algumas fotos. “- Fogo. És um ricaço e a gente não sabia.” –
Comentou Caty, sorrindo e acrescentando: “- A Cris está a dizer que nos
podias tirar umas fotos para fazer um Book.”. Respondi que poderíamos pensar
nisso e que teríamos que combinar. Não queria parecer ansioso por um
encontro e, a verdade, é que não as conhecia pessoalmente. “- Se sermos
modelos dependesse de ti, já vimos que por aí não vamos conseguir.”.
Respondi, também em tom jocoso: “- Não é verdade, apenas não sei se a
máquina fotográfica vai realçar a vossa beleza natural e não gosto de
defraudar expetativas.”. Continuámos a conversa, centrada nesta paixão
delas, sendo uma eventual concretização já algo tardia. “- Mas antes tarde
que nunca.”. Os estudos estiveram sempre em primeiro lugar e a verdade é que
nunca tinha surgido uma oportunidade. Agora, que pensavam concluir os
mestrados em meados ou finais de outubro, e estávamos quase no verão, era a
altura certa para uma tentativa a sério, que bem poderia ser a última.
Ouvi com toda a atenção e
perante o que me parecia uma insistência, reforcei a ideia de que me
disponibilizava para as ajudar. “- A sério?”. – Quis confirmar Caty. Nessa
altura estava em Lisboa e propus que nos encontrássemos num almoço ou
lanche, como preferissem. Notei alguma hesitação de Cris que, sentada no
sofá, com a t-shirt subida, deixando ver um pouco da cueca branca, ficou uns
segundos sem responder a Caty, que a indagava com o olhar. Pareciam estar
ambas um pouco apreensivas, o que considerei natural. Mas a inclinação de
cabeça de Cris ultrapassou o inesperado impasse e Caty confirmou que seria
melhor um almoço, sugerindo um restaurante nas proximidades do prédio onde
viviam em Benfica. Entendi que se resguardavam, escolhendo um restaurante
conhecido e perto de casa. Aceitei sem hesitações. Combinámos para dai a
dois dias, sábado, às 12:30 horas. O resto da conversa nessa noite decorreu
sobre as notícias que chegavam de Kiev. Sobretudo, sobre o futuro da
Ucrânia. Um dos atributos de ambas, apesar da sua juventude, era o de
estarem bem informadas de quase tudo o que se ia passando no Mundo, com
opinião formada, por vezes não convergente entre elas ou comigo, mas sempre
com respeito mútuo pelas posições de cada um.
| |
|
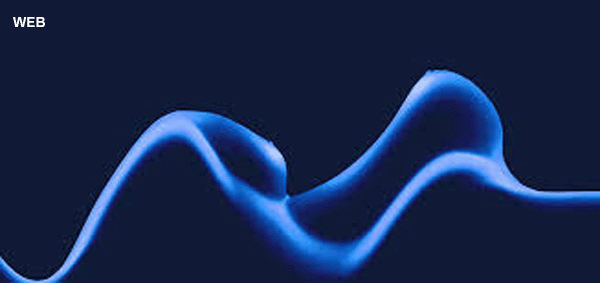 |
| |
A experiência do Skype
facilitou o nosso encontro junto ao restaurante. Reconhecemo-nos de
imediato, cumprimentando-nos com dois beijinhos e com um à-vontade quase
natural. “- Ao vivo ainda são mais bonitas e simpáticas.”. “- E tu pareces
mais jovem e elegante. Quanto à nossa simpatia, é melhor não antecipares
elogios...”. Rimos, como amigos de longa data. Entrámos num típico
restaurante de Bairro, com uma ementa não muito variada, mas com alguns
pratos do dia que me agradavam. As escolhas foram diferentes. Um vinho tinto
alentejano foi consensual. Começamos o convívio com alguns tiques de Chat
mas, rapidamente, assentámos numa conversa amena e agradável. Senti algum
formalismo delas perante uma certa irreverência que eu cultivava. Papéis
invertidos, pensei. Na verdade, pareciam mais rígidas do que eu nalguns
aspetos. Ou a idade permite-nos um certo desprendimento? Não gastei muito
tempo em introspeção ou em análises psicológicas. A conversa fluía ao sabor
do tinto alentejano, divertida e sem inibições. Durante o café, resumimos o
que ficara combinado, não fosse eu, segundo Caty, esquecer a ajuda que havia
disponibilizado e o compromisso assumido. Tratava-se de ficarmos na casa do
Alentejo, com ida já na próxima sexta-feira, dia 7 de junho, e regresso no
domingo. Assegurei-lhes que não haveria qualquer obstáculo da minha parte.
Apenas teria de telefonar à tia Francisca para que tivesse tudo preparado,
incluindo os quartos de hóspedes. Teríamos também de comprar algumas coisas
básicas para os pequenos-almoços, lanche e alguma refeição que quiséssemos
fazer em casa. Não contando com o que a tia Francisca pudesse deixar por lá,
o que era sempre uma surpresa. Tudo acertado, portanto. Paguei a conta,
vencendo alguma resistência de Caty e Cris, e saímos do restaurante.
Quando me preparava para a
despedida, Cris agarrou-me no braço e, olhando para Caty, propôs-me que
fosse até casa delas, onde poderíamos conversar mais um pouco. Após uns
momentos de hesitação, aceitei o convite. Era ali mesmo, no quarteirão
seguinte. Um quinto e último andar de um prédio dos anos setenta. Decorado a
gosto de ambas e das suas possibilidades económicas, o apartamento era,
apesar disso, agradável e funcional. Tive direito a uma poltrona confortável
colocada perpendicularmente ao sofá onde se sentaram, de frente para o
televisor. “Tomas um digestivo?”. Havia umas garrafas de uísque, gim e
licores. “- E há aquela aguardente de medronho, que trouxe da terra da minha
avó...” – Disse a Caty, apontado e levantando-se para pegar numa garrafa sem
rótulo, ainda cheia e tampada por uma rolha antiga de mola. Condescendi em
provar e Caty encheu três pequenos copos. “- Um brinde ao Book... Ah, e aqui
ao santo André que nos vai ajudar!”. Tocámos os copos, bebemos um pequeno
gole... E, estremecendo os três, voltámos a sentar. “- Isto é forte...
Fogo!”.
Caty e Cris estavam sentadas,
lado a lado, com as pernas esticadas e os pés sobre uma espécie de estrutura
almofadada. “- Nunca tinha visto isso, deve ser ótimo para descansar as
pernas.”. Confirmaram que sim. “- Bastante relaxante, podes crer. Vamos a
outro gole... blurrrrp...” – Fez Cris, sacudindo a cabeça. Caty bebeu também
um gole, imitando Cris. “- Dá-me um beijo de medronho, Cris!”. Beijaram-se,
primeiro lentamente, depois com maior fulgor, deixando as línguas explorar
as bocas e os contornos dos lábios. Quando acabaram, tinha esvaziado o meu
copo sem qualquer reação ao medronho, Mas a minha excitação não lhes passara
despercebida. “- Ficaste excitado?” – Perguntou Cris. “- Não. Que ideia...”
– Respondi, com a voz entrecortada. “- Confessa lá...” – Insistiu Caty. “-
Bem, acho que vocês perceberam, por isso não vale a pena negar um facto.” –
Respondi, sorrindo. Ambas riram, abraçando-se de novo e agora com um beijo
curto e ao de leve. “- Estás aprovado! Agora és mesmo nosso amigo de
verdade.” – Continuou Cris. Perante a minha expressão, um pouco idiota, Caty
complementou: “- Quer apenas dizer que foste sincero e acabaste de confirmar
que podemos confiar em ti.”. Ficámos ainda algum tempo a conversar, mas os
compromissos que já havia assumido ditaram que tivesse de me despedir. Com
um abraço a três, de corpos bem juntos, sentindo-lhes os seios. “- Um abraço
de amigos...” – Rematou Cris.
Nos dias seguintes,
conversámos na segunda e na quarta-feira, combinando roupas, para diversos
perfis fotográficos, comidas e bebidas a levar. Na sexta, logo pelas 9
horas, lá estávamos no hipermercado, cumprindo uma lista quase infindável.
Os sacos tiveram de ser distribuídos entre o porta-bagagem, já quase cheio
com duas malas delas, e na parte esquerda do banco de trás, já que Cris
ocupava o outro lado, enquanto Caty seguia no banco da frente. Pusemo-nos a
caminho já passava das 10 horas, com um tempo excelente. Por volta das onze
e meia parámos em Grândola, aproveitando para tirar algumas fotos no
parquezinho infantil e na zona de piquenique. A seguir rumámos a Évora. Aí
tiramos mais umas fotos, depois da mudança de t-shirts, junto ao templo de
Diana e na Praça do Giraldo, abancando para almoço nas imediações. Tínhamos
agora de ir até casa, a uma razoável distância daquela cidade, sendo boa
parte do caminho através da A6. Da saída da autoestrada até ao
empreendimento, por uma estrada municipal, com excelente piso, a vista era
deslumbrante de paisagem, porque não se via vivalma. Parámos algumas vezes,
ousando mudança de traje só possível neste cenário, acumulando fotos tendo
por fundo os campos cultivados, alfaias agrícolas e a imensidão da paisagem
alentejana. Elas haviam tirado o soutien para ficar com os seios soltos.
Pude então apreciar a beleza destes, pela primeira vez. Diferentes, mas
firmes e com mamilos bem definidos. Umas fotos, apenas de t-shirts
compridas, permitiram ver as cuecas brancas de ambas e uns pelos rebeldes
saídos, enquanto trocavam de roupa. A covinha vertical ao centro, mais
pronunciada em Caty, deixava antever lábios vaginais mais e menos
avantajados, moldando as vaginas de ambas.
Finalmente o empreendimento,
com vivendas baixas, rodeado por um muro de uns três metros acrescido de
mais um metro e meio de rede detetora de intrusão. À volta inúmeros
sobreiros, camuflando o estranho implante na natureza, tornando-o quase
discreto. A entrada fazia-se por um portão largo que só abriu depois de uma
chamada telefónica e um código de identificação, por um segurança que se
encontrava no interior. Cumprimentos de circunstância e seguimos por uma
alameda arborizada. Uns recortes da parte esquerda, com identificação de
cada propriedade, davam acesso a cada moradia, através de um novo portão,
agora aberto por telecomando. “- Calma, calma!” – Fui gritando ao longo da
rampa e até ao telheiro para o Tico e Teço, que nos vieram dar as
boas-vindas. Mal saí do carro atiram-se a mim, com as patas no meu peito,
tendo de me encostar ao veículo para não cair. Depois de todo lambuzado,
cheiraram Caty e Cris, desde os sapatos até ao centro das pernas,
insistindo... “- Já chega. Vamos!” – Ordenei. “- Desculpem, mas podem estar
à vontade, eles são, geralmente, bem comportados.”. “- Geralmente?”. Rimos e
começámos a retirar a bagagem, ao mesmo tempo que acalmava o Tico e o Teco
com comida especial trazida de propósito. A empena da casa, de fronte da
entrada no prédio, estava parcialmente coberta de azulejos que representavam
uma cena de ceifa bastante pormenorizada e de uma beleza rara. A porta de
entrada ficava à direita numa espécie de pátio que confinava com o muro de
separação da vivenda ao lado, dando para um pequeno Hall, que ramificava, do
lado esquerdo para a sala de estar e do direito para os quartos e saída para
as traseiras da casa. Em frente, as escadas que conduziam ao piso inferior.
Conduzi Caty e Cris aos
quartos de hóspedes, que podiam comunicar entre si, à direita do corredor e
após a cozinha, dizendo-lhe que ocupassem ambos ou apenas um deles, como
melhor entendessem. Do lado esquerdo o meu quarto, que dava acesso a uma
ampla zona de duche de massagem e ao Jacuzzi, também com entrada pelo
corredor. No final do corredor uma porta dava acesso às cadeiras de
descanso, colocadas à volta da piscina. Esta, com 25 metros, fora construída
perpendicularmente à habitação, ocupando quase todo o comprimento do terraço
entre os muros da vizinhança. O espaço entre a casa e o muro do lado
esquerdo, bem como a frente do terraço estavam protegidos com gradeamento de
cerca de um metro de altura. Deste para baixo, na parte frontal, era a
pique, distando uns bons três metros do muro de proteção do empreendimento,
que se situava numa cota mais baixa. Para este lado a vista era
deslumbrante, vendo-se a paisagem a partir das traseiras da casa sobre a
piscina, até ao horizonte. Campos cultivados, aldeias, outros montes e, pelo
meio, a autoestrada. Ao lado do acesso ao terraço, ficava a porta do
compartimento de apoio, que servia para duches rápidos e arrumos de toalhas
e outros objetos para uso na água ou limpeza da piscina, e que confinava com
a área do Jacuzzi e duche interior. No pátio em frente aos quartos de
hóspedes e da cozinha havia duas mesas com bancos e uma churrasqueira. Sobre
esse espaço e ao longo de toda a parede uma latada, suportada pelas no muro
de separação da vivenda vizinha e no telhado de placa em declive. O acesso
podia fazer-se também a partir da cozinha, espaçosa e funcional, com
bancada, micro-ondas, forno e fogão ao centro. Fui mostrando tudo a Caty e
Cris, que iam ficando encantadas e mais ainda quando lhes disse que a
piscina tinha a possibilidade de ser coberta por uma lona e a água podia ser
aquecida. A lona estava enrolada dentro de dois cilindros presos aos muros,
junto das cabeceiras.
Entrámos de novo pela porta
dos fundos, apreciando agora as zonas de Jacuzzi e duche. O Jacuzzi,
redondo, com capacidade para várias pessoas. Ao lado o compartimento do
duche, com dois chuveiros de massagens em frente um do outro. “- Quero tomar
um duche aqui contigo Cris.” – Disse Caty, com um sorriso e olhar enlevados
para Cris. Daí passámos ao meu quarto por uma porta de correr interior.
Pararam estupefactas. A cama era enorme, o teto por cima, parcialmente
espelhado. Na parede oposta à cama um LCD grande e aparelhagens de vídeo e
som, com colunas colocadas estrategicamente. Armários embutidos nas paredes,
também espelhados. Luzes, de várias cores que sincronizavam com o som. “-
Parece que estamos num lugar de sonho...” – disse Cris, enquanto Caty se
atirava sobre a cama. “- Desculpa, não resisti. É fofinha.”. Eu ria, não
deixando transparecer alguns pensamentos que me vinham já atormentando. Por
isso, achei melhor convidá-las a ver a sala de estar. Do lado esquerdo uma
mesa grande, com cadeiras confortáveis para uma dúzia de pessoas. Um bar
ocupava, até ao teto, o canto e parte das paredes desse lado da sala, com
copos, garrafas e utensílios diversos. Do lado direito, também até ao teto,
um armário onde se guardava a loiça, os talheres, etc.. A seguir a zona de
sofás, desde cerca de metade da sala e alinhados em semicírculo. Na parede
em frente um LCD gigante, a meia altura, sobre as aparelhagens de vídeo e de
som. De ambos os lados da sala duas janelas enormes rasgadas, com vista para
os muros circundantes, ornamentados com outras imagens de azulejos, mais
pobres, mas igualmente belas.
Finalmente, descemos ao piso
inferior, com o escritório em frente às escadas. Estantes repletas de livros
e a secretária com os dois monitores e, sob ela, os computadores. Uma janela
rasgada horizontalmente sobre o relvado interior e a parte inferior do muro
com azulejos, colocados aleatoriamente. Ao fundo uma porta, que abri na
completa escuridão. Liguei a luz e as quatros paredes de uma cave apareceram
com garrafas a preencher grande parte dos suportes de tijolo. Uma razoável
coleção de vinhos, que coloquei à disposição para as refeições que
fizéssemos em casa. Do outro lado do escritório, uma porta idêntica, mesmo
junto das escadas. Outro mundo desconhecido delas e o que mais ansiavam
provavelmente conhecer. O estúdio. Um compartimento sem janelas repleto de
equipamentos. Maravilhadas, foram perguntando para que servia cada um, o
palco, as luzes...
Depois das explicações,
combinámos que ainda podíamos tentar fazer uma sessão fotográfica antes do
jantar. Ainda não eram cinco horas da tarde. Dava perfeitamente para umas
fotos junto da piscina, aproveitando a luz do dia e depois, ali, no estúdio,
com a roupa que entendessem. Podíamos jantar em casa, aquecendo alguma da
comida que compráramos no hipermercado. Elas concordaram e assim ficou
combinado. O meu telemóvel tocou. Era a tia Francisca. Vinha trazer umas
migas por volta das 19 horas e, por mais que lhe dissesse que não se
incomodasse, nada feito. “- Não me diga que não, senhor doutor! Estou aí às
7 horas com o Francisco.”. E ficaram os planos um pouco alterados. “- Sendo
assim, tiramos as fotos junto da piscina e deixamos as de estúdio para
depois do jantar. De acordo?”. “- Migas? Adoramos!”.
Recomeçámos o trabalho. O Sol
estava a ficar baixo, batendo de frente pelo final do terraço. Tentei
explorar a luz, experimentando posições, deixando propositadamente, nalguns
casos, que os reflexos interferissem com a imagem, dando um toque, um
pormenor que pudesse fazer a diferença. Caty e Cris estavam a posar de
biquíni, sem qualquer maquilhagem. Queria fotografá-las naturais, valendo
por si mesmas, como eram no dia-a-dia. Aliás, é assim mesmo que gosto da
mulher. Mas estamos a fazer um Book de candidatas a modelo e temos de
atender a outros aspetos. “- Cris vira-te de perfil...isso. Pronto. Vamos
passar à Caty.”. “- Encolhe um pouco o biquíni. Um pouco mais de
ousadia...”. “- Pois, ela tem umas mamas grandes. Ah, ah, ah...”. De facto,
Caty tinha uns seios bem redondos e avantajados. Em contrapartida, Cris
tinha uns mamilos bem recortados e salientes. Fui fotografando ambas,
alternadamente, com os cabelos soltos e descalças, em diversas posições.
“- Pausa e vamos à
maquilhagem.”. Enquanto elas se maquilhavam nos quartos de hóspedes,
deitei-me numa das cadeiras, esticando o corpo e sobretudo as pernas,
aconchegando-me nas almofadas. Havia uma dúzia destas cadeiras, muito
raramente usadas. Não me lembrava de as ter visto alguma vez todas ocupadas.
Geralmente apenas estava ali eu e alguma amiga e mesmo nas situações de
ajuda a algum amigo, em vídeo ou fotografia, ou quando convidava um ou outro
casal amigo, incluindo os filhos, para passarem um fim-de-semana comigo,
nunca ocupávamos as doze cadeiras. Bem, um dia podiam ser necessárias... A
verdade também é que não gostava de muita gente à minha volta. Ao cabo de
umas horas, já me cansavam. Era um solitário sem dúvida. Que raio de
pensamentos. O entardecer estava a levar-me a uma introspeção que não me
agradava... “- Ah, uau...que bonitas. Vamos ao trabalho.”. Vinham de cabelo
apanhado, o que lhes realçava mais os rostos. E com a maquilhagem pareciam
bastante diferentes. Talvez tivessem exagerado um pouco, mas não opinei.
Eram quase seis horas. Ainda havia muita luz, mas o Sol já se avermelhara um
pouco, embora ainda longe do ocaso. Fotografámos ainda uma boa meia hora.
Usei duas máquinas com tripé e uma terceira, a minha preferida, do melhor
que havia no mercado. Aproveitei a luz serena do fim da tarde para uns
efeitos de contra luz, mas já se haviam esgotado as poses e opções. À noite
e no dia seguinte teríamos muitas outras oportunidades. Ainda tive tempo de
descarregar os míni-cartões num dos computadores e de criar uma pasta para a
Caty e outra para Cris, quando soou a campainha do portão.
Subi e vi no intercomunicador
que eram o compadre João e a tia Francisca. Abri. Caty e Cris tinham
retomado as calças de ganga e t-shirts com que haviam saído de Lisboa. Fomos
ao encontro das visitas. O Tico e o Teco, que haviam estado a observar as
sessões fotográficas, a dormitar, estavam agora alvoraçados. A subir a rampa
o Citroën Dyane, já peça de museu, do compadre João, um pouco aos
solavancos, mas lá chegou ao telheiro. Os beijinhos e o aperto de mão da
praxe. Apresentei-lhes as amigas Caty e Cris, sem mais explicações. Porque
já estavam habituados a eu ter companhia e, na verdade, não tinham nada a
ver com isso. Após umas festinhas ao Tico e ao Teco, a tia Francisca a
dirigiu-se para a cozinha, como quem está em sua casa, com um saco de
serapilheira de onde retirou um tacho, um Tupperware e um pão caseiro
embrulhado num pano. “- Aqui tem, senhor doutor. Ainda bem que trouxe um
tacho maior, não sabia que tinha duas companhias.”. Dizia sempre o mesmo,
mas desta vez até tinha razão, por haver uma boca a mais. Uns minutos de
conversa, com Caty e Cris a fazerem amizade fácil, e uma última recomendação
da tia Francisca: “- Vão jantar que ainda está quentinho e frio não tem
piada nenhuma.”. As despedidas e o Tico e o Teco acompanhando o Dyane até ao
portão, onde pararam por minha imposição, voltando em corrida. O portão
fechou-se e fomos jantar. Caty perguntou se me importava que tirassem as
calças para ficarem à vontade. “- Claro que podem, gostaria que se sentissem
como em vossa casa.”. Eu já estava de calções de banho, em que me sentia
confortável e fresco.
Enquanto esperava por elas,
fui pondo a mesa, trazendo mesmo o tacho da tia Francisca. Uma garrafa de
vinho alentejano, guardada no armário, aguardava a aprovação de Caty e Cris.
Chegadas, aprovaram e perante as minhas desculpas em ter trazido o próprio
tacho, apenas riram, acenando com a cabeça. Estávamos com fome e eram apenas
sete e meia da tarde. O cheiro que saiu do tacho, ao remover a tampa,
abriu-nos ainda mais o apetite. “- Uma delícia!” – Exclamámos em coro. Um
brinde, com os copos a retinir, deu início a um período de quase silêncio
absoluto. A comida não era em demasia para os três, mas havia ainda um pudim
caseiro. “- Calorias não faltam neste jantar. Se não nos despachamos com as
fotos, ainda temos de fazer um intervalo para dieta.” – Brincou Caty com o
seu habitual humor. Na verdade, abusámos mesmo do pudim de ovos. Delicioso,
simplesmente. Ninguém quis café, mas achámos por bem tomar um digestivo –
uma aguardente de medronho. “- Já está a tornar-se num hábito. Ainda ficamos
alcoólicos...“ – Voltou Caty, trocando um beijo com Cris. Depois, abraçadas,
aproximaram-se de mim, com os lábios em forma de beijo. Não me fiz rogado,
claro. Um beijo apenas ao de leve em cada uma, para não estragar o clima que
íamos criando.
Depois de arrumada a mesa e a
cozinha, abancámos nos sofás, fazendo um Zapping pelas inúmeros canais que,
para ser sincero, nem sabia serem tantos. Ao cabo de uma meia hora… “- Vamos
a nova sessão fotográfica?” “- Que mau, estávamos tão bem aqui – Respondeu
Cris. Mas concluímos que era melhor prosseguir. Enquanto elas mudavam de
roupa, davam um jeito ao cabelo – a adivinhar pelo ruído do secador - e se
voltavam a maquilhar, fui até ao estúdio ligar os computadores e verificar
as máquinas e as luzes. Aproveitei ainda para separar as fotos de cada uma
para as pastas que já havia criado. Caty e Cris apareceram quando já havia
acabado as minhas tarefas. Agora com os cabelos soltos, bem penteados,
notando-se alguns retoques com recurso a laca. Ambas com vestidos inteiros,
com um decote generoso, realçando os seios. Mesmo os de Cris pareciam
maiores. “- Vá, vamos a isto.”. Fiz umas vinte fotografias de cada uma, de
cara e de corpo inteiro. Repeti as fotos com outros dois vestidos que elas
haviam trazido, mudando de roupa mesmo ali à minha frente. No interior, sob
as luzes, os corpos delas pareciam ainda mais apetitosos. “- Ok, chega por
hoje. Se quiserem, ponham-se à vontade e depois venham ter comigo para
vermos os resultados até agora.”.
Fiz a distribuição das novas
fotos pelas pastas. Já havia quase duzentas por cada uma delas. A ideia era
apresentarmos um álbum com 24 fotos para cada uma e ainda faltavam as do dia
seguinte, embora me a sensação era a de que já havia fotos mais do que
suficientes e em nada iriam acrescentar outras que viéssemos a tirar. De
qualquer modo, para já impunha-se uma separação das melhores, reduzindo a
escolha das vinte e quatro o mais possível. Mas era uma tarefa que só a elas
competia. Caty e Cris tinham voltado às t-shirts e aos chinelos, limpando
todos os vestígios de maquilhagem. Com elas traziam a garrafa de medronho e
copos. “- Daqui a pouco não vemos as fotos.” “- Não será mais um copito de
medronho que nos vai provocar uma piela.”. Ou mesmo dois, como foi o
caso. Preferiram ver ambas a pasta de cada uma, alternadamente. Uma subpasta
tinha já sido criada para arrastar as fotos escolhidas. Numa primeira
escolha, as fotos de cada uma ficarem reduzidas a umas sessenta,
representativas da roupa usada, dos locais e das poses. Usávamos apenas um
computador, tendo em conta a opção delas, sentados em três cadeiras de
executivo, coladas, comigo ao centro, sentindo-as nos braços, por vezes nos
seios. Iam escolhendo, foto a foto. Uma mais bem conseguida arrancava um
“uauuu” e, por vezes, um beijo delas, quase em simultâneo, em cada face.
Quando acabámos, empurrei a minha cadeira um pouco para trás, deixando-as
mais perto uma da outra. Levantei a mão direita, batendo na de cada uma,
como comemorando o êxito desta primeira sessão. Elas beijaram-se. Depois
Cris puxou-me ao encontro delas e de um beijo a três, com as línguas
tocando-se, sabendo a medronho. Abracei-as, fechando este círculo quase
mágico. Foi breve o momento, mas deixou-me sem fôlego.
Desliguei todo o equipamento
e voltámos à sala de estar. Antes de sentarmos, vi no relógio de parede que
eram quase 23 horas. “- Vamos apanhar um pouco luar?”. Concordaram e
sentámo-nos nas cadeiras da piscina contemplando a noite. A lua cheia, num
céu límpido, iluminava a noite. Nem uma aragem se fazia sentir. A
temperatura ainda se mantinha elevada. “- Querem que vos vá buscar uma
bebida… um medronho?” – Perguntei a rir. Ambas riram também, mas não queriam
mais nada, apenas reter aquele momento da noite alentejana. “- Muitas vezes,
nestes dias, costumo nadar um pouco ou simplesmente brincar na água sob o
luar…”. “- Deve ser agradável…” – Retorquiu Caty. “- E é mesmo. E quando
estou sozinho, nem uso fato de banho.” – Rematei, com um riso breve e algo
temeroso. “- Por nós estás á vontade, não é Caty?”. – Concluiu Cris, também
sorrindo. Caty assentiu. Fiquei indeciso, mas não voltei atrás, até porque
era absolutamente natural. Tirei a t-shirt e os calções e dirigi-me para a
zona de degraus da piscina, passando em frente delas, ficando de lado para
ambas até começar a entrar na água. Apercebi-me que olharam para o meu
pénis, com insistência. Por isso fingi que hesitava entrar na água,
permitindo-lhes uma observação mais demorada, com ele já meio ereto.
Orgulhava-me dos seus 20 centímetros. Mergulhei na água, deixando-as ver bem
as nádegas e de novo o pénis, com as pernas abertas, antes de submergir
completamente.
“- A água está divina. É um
banho de luar completo. Venham!”. Olharam uma para a outra e levantaram-se.
Tiraram a roupa e desceram os degraus devagar, deixando-me ver os corpos,
perfeitos, apetecíveis. Só pensava nisso naquele momento. Estava a meio da
piscina, ainda imerso apenas até à cintura. Elas foram aproximando-se,
saboreando a água, o luar, o silêncio quase absoluto, não fora o seu leve
chapinhar. Estávamos como envoltos numa magia, com os reflexos da luz
cintilando nas pequenas ondas da piscina e dando-nos uma dimensão e imagem
únicas. Ficámos próximos, falando baixinho, como que segredando ou cumprindo
apenas um ritual, em que as palavras fossem também parte da magia. Serenas e
dolentes, como a noite alentejana. Caty e Cris, em contra luz, pareciam
desfocadas, com as bocas e os olhos brilhantes realçados. Coloquei-lhes as
mãos nos ombros e puxei-as suavemente para mim, juntando os corpos e as
bocas. Um beijo a três, demorado, com as línguas emaranhadas. O meu corpo,
na zona da pélvis fazendo um movimento lateral de Cris a Caty, fazendo-as
sentir o meu pénis entumecido. Ambas corresponderam com um maior aconchego
dos seus corpos, roçando as vaginas depiladas.
Afastei-me, ficando a boiar
de costas com o pénis completamente ereto. “- Conseguem ficar assim a
boiar?”. Nunca haviam tentado, mas Cris quis ser a primeira e experimentar.
“- Vá, a Caty segura-te a cabeça e eu as pernas.” Enquanto Caty segurava
Cris com a mão sobre o pescoço eu coloquei-me no meio das pernas de Cris,
segurando-as com as mãos. “- Qual é a sensação?”. “- Ótima. Não me deixem…”.
Rimos, com cumplicidade. Avancei um pouco mais para o centro dela,
segurando-a agora pelas coxas… “- Assim ficas mais segura ainda.”. “- Muito
mais!”. – Disse Cris, num tom de fala teatral melodramática, enquanto Caty,
sorrindo a empurrava de encontro a mim. “- Ai, devagar!”. Caty não tinha
medido o impulso do corpo de Cris e o meu pénis havia entrado parcialmente
na vagina dela bruscamente. Retirei-o um pouco, fazendo movimentos lentos.
Ao mesmo tempo beijava Caty, que se inclinara para mim e com a mão livre
massajava os seios de Cris, cutucando os mamilos. Depois intervalava os
beijos comigo ou com ela, ora na boca ora chupando-lhe os mamilos. Eu ia
entrando aos poucos, evitando causar-lhe desconforto, porque me apercebera
que poucas vezes deveria ter tido sexo assim. Era tão apertadinha que,
nalguns momentos, achei mesmo que era melhor desistir. Mas o desejo dela
crescia rapidamente e senti que estava prestes a ter um orgasmo. Um grito de
prazer ecoou pela noite. Fiquei apreensivo se a eventual vizinha ou o guarda
tivessem ouvido.
Ofegante, Cris voltou a ficar
de pé. “- Agora é a tua vez.”. – Agarrando Caty e pressionando-a a deitar-se
na água. Eu fiquei na mesma posição, mas já a segurá-la pelas coxas.
Encostei o pénis, empurrando-o devagar pela vagina. Caty gemeu apenas de
prazer, acolhendo-o com menor resistência. “- Não te venhas em mim.”. “- Não
te preocupes, fica descansada.”. Caty atingiu o clímax rapidamente. Senti
que estava excitadíssima, toda molhada. Era algo que me deixava com mais
tesão ainda. A imagem de sentir a minha mão húmida na vagina dela era
suficiente para me fazer vir, mas contive-me. Caty estremeceu com um
tremendo orgasmo, mordendo os lábios e soltando apenas gemidos
entrecortadas, como se tentasse evitar um grito igual ao de Cris. Tive de
retirar rapidamente o pénis, para não explodir também. Ao colocar-se de pé,
Cris abraçou-a, beijaram-se e acariciaram as vaginas mutuamente. Eu
retirei-me para junto das escadas, olhando lá bem para o fundo do horizonte,
pensando que a Lua devia ter muitas estórias para contar, mas, prudente como
era, guardava-as, como um segredo, só para si. Eu queria apenas ocupar a
cabeça com qualquer coisa que não tivesse a ver com sexo. Queria reservar-me
para mais tarde. “- Afastaste-te de nós. Estás chateado?” – Perguntou Caty.
“- De modo algum. Estou apenas a recompor-me…”. – Respondi. “- Mas não
vieste…” – Insistiu Caty. “- Não, mas ainda não acabámos por hoje, pois
não?”. “- Não?!” – Brincaram em coro.
“- Querem tomar duche?”.
Claro, depois da piscina, havia que limpar o corpo do cloro e secar os
cabelos. Convidei-as a irmos à zona do Jacuzzi e duche. “- Dois chuveiros de
jatos de pressão… Hum, já agora tinhas colocado três.” – Ironizou Caty. “- É
porque não estava à espera de duas mulheres ao mesmo tempo.” – Completou
Cris. Os chuveiros estavam nas paredes laterais, relativamente à porta
transparente a toda a extensão do compartimento. Os jatos de água de maior
alcance confundiam-se ao centro, onde me encontrava. No meio de ambas.
Depois de lavarmos bem os cabelos com champô, dedicamo-nos a massajar os
corpos com gel. Ensaboados um pouco desordenadamente, roçando os corpos e
acariciando-nos mutuamente, insisti nas vaginas, com os seios colados aos
meus braços. Elas revezavam-se em estimular-me o pénis ou a acariciar-me os
testículos. Neste triângulo, beijávamo-nos alternadamente ou ao mesmo tempo,
enrolando as lingas, fechando os olhos aos jorros de água. Ambas gemiam, num
arfar progressivo, em coro comigo. Sabia que íamos explodir ali no meio da
água. E, em uníssono, anunciamos mutuamente o orgasmo. Vim-me nas mãos delas
que me envolviam o pénis feito refém. Depois, ficamos abraçados uns minutos,
gozando os últimos estertores, saboreando um momento que queiramos prolongar
o mais possível. Finalmente, saímos do duche. Para uma área com um lavatório
e um grande espelho. Prateleiras laterais continham utensílios próprios para
uso de homem e de mulher, além de dois secadores de cabelo e dois pequenos
bancos junto da bancada onde encaixava o lavatório. “- Tudo a duplicar… tens
de pensar em triplicar. “ – Insistiu Caty. Rimos, deixando-as secar os
cabelos, depois de uma limpeza ao espelho embaciado
Dali entrámos no meu quarto.
Ficaram a apreciar em silêncio, tocando e sentindo nas mãos alguns objectos
decorativos, em particular de jade, olhando demoradamente dois quadros de
pintura abstracta e dois tapetes de Arraiolos que nem apetecia pisar. A
enorme televisão LCD na parede em frente da cama, inclinada sobre esta e a
aparelhagem de vídeo e som interligadas, permitindo um efeito de Home
Theater. Sentaram-se na beira da cama, depois deitaram-se lateralmente. “- É
fofinha e enorme…”. – Comentou Cris.”. “- Dá para três, acho…” – Interrompi.
“- Isso é um convite?”. “- É. Podem dormir comigo, se quiserem claro.”.
Aceitaram. Foram aos quartos delas vestir o pijama. Eu fiz o mesmo e
encontrámo-nos na sala. Tínhamos fome. Umas fatias de pão alentejano, umas
rodelas de chouriço e uns bocados de queijo foram a ceia ligeira que se
impunha. Era quase 1 hora. Perpassava por todos um certo cansaço. Um dia
longo de emoções fortes. Combinámos deitarmo-nos, depois da higiene pessoal.
A hipótese de ainda vermos um filme foi afastada mas ligámos a televisão,
com Caty a fazer zapping pelos inúmeros canais. Fiquei ao centro da cama,
ladeado por elas. Cris adormeceu quase de imediato. Eu devo ter feito o
mesmo. Caty deverá ter-se rendido poço tempo depois. Acho que dormimos
abraçados, corpos encostados. Foi, pelo menos, o que sonhei,
entranhando-se-me o cheiro delas.
Abri os olhos pela manhã, com
uma estranha sensação de prazer. Caty lambia-me o pénis suavemente. Cris,
soerguida, olhava com um ar ainda estremunhado. Fingi que não acordara,
deixando as palpebras semicerradas. A um gesto de Caty, Cris, o mais
sorrateiramente possível, sentou-se sobre mim. Caty empurrou devagarinho o
pénis, já duro, para a vagina dela. Desceu lentamente, enquanto eu apenas
respirava mais fundo, mas como se estivesse ainda a dormir. Foi descendo,
até o ter quase todo dentro dela. Apesar de bem lubrificada, doía-me um
pouco o percurso estreito e apertado, compensado com o pulsar da vagina,
ardendo em fogo. Abri os olhos, coloquei as mãos nos seios de Cris, depois
com a esquerda, aproximei Caty, beijando-a. Cris acelerou os movimentos,
atingindo rapidamente o orgasmo. Inclinou-se para a frente, beijando a mim e
a Caty, trocando com esta. Caty cavalgou-me com desenvoltura e força de quem
já está prestes a satisfazer-se. Senti os fluidos dela escorrerem sobre mim,
enquanto mantinha ainda contrações e movimentos suaves de rotação sobre o
meu pénis. Tive de a retirar delicadamente, porque sentia-me a perder o
controlo.
Depois do pequeno-almoço,
fomos a Arraiolos e Montemor-o-Novo, aproveitando para mais uma série de
fotos com elas em traje casual, mudando de roupa num restaurante desta
última cidade onde almoçamos. Para não voltarmos a sair de casa, levámos
alguma comida e pão fresco para o jantar. No regresso, ainda mais algumas
fotos, conscientes de que tínhamos umas horas de trabalho de seleção, até
termos os Books prontos. O Tico e o Teco, que nos haviam acompanhado ao
portão de manhã, pareciam estar no mesmo lugar à nossa espera. Curioso o
sentido dos animais nestas coisas. As festas do costume, agora mais à
vontade com Caty e Cris, cheirando-lhes os sapatos, as pernas…
Eram 14 horas. Fazia todo o
sentido descer até ao Estúdio e trabalhar um bocado. Apesar de ser ainda
sábado era preferível concluir o trabalho o mais cedo possível, para
podermos descansar ou dar uma volta pela região. Assim fizemos. Separámos as
fotos de cada uma, acrescentando às subpastas das fotos previamente
selecionadas mais cerca de 30, o que dava quase noventa fotos para cada uma.
Agora é que ia começar o trabalho a sério, com a redução para as 24 fotos
pretendias para cada Book.
Resolvemos fazer um
intervalo. Era a meio da tarde, o sol estava convidativo, a piscina
esperando. Ficámos nus. Brincamos na água despreocupadamente, abraçando-nos,
roçando os corpos, beijando-nos… explorando os sentidos. O Tico e o Teco
andavam numa correria louca á beira da piscina. Tive de os ir acalmar com
uma festinhas na cabeça e ao longo do dorso. Depois sentei-me nos degraus de
acesso à piscina observando Caty e Cris. Beijavam-se, roçando os seios,
esfregando as vaginas uma na outra, acariciava-se mutuamente, em crescendo.
Deixei-as saciar-se. Ainda ficámos algum tempo nas cadeiras a apanhar o sol
já em declínio. Os cães aninharam-se junto das cadeiras que ocupávamos,
levantando as orelhas sempre que ouviam algum ruído menos vulgar. Olhei de
soslaio Caty e Cris, deitadas nas cadeiras contíguas à minha e senti-me o
homem mais sortudo do mundo. Passou pela cabeça que gostaria de as ter ali
comigo permanentemente. Afastei essa ideia. A minha liberdade, que por vezes
confundia com solidão, estava acima de todas as lamechices que a minha
cabeça pudesse engendrar. Aliás, eram horas de tomar um duche e, apesar de
cedo, pensarmos no jantar.
O jantar foi leve e rápido.
Estávamos numa fase em que queiramos concluir o trabalho o mais depressa
possível. Depois de muitas hesitações pelo meio, já que, nalguns casos era
quase impossível optar por uma foto em detrimento de outra, chegámos
finalmente a consenso quanto às 24 fotos a apresentar. Eram 22 horas e 30
minutos. Faltava escolher capas para os Books. Ainda propus novo intervalo,
mas não obtive qualquer acordo. Continuámos. Por volta da meia-noite
tínhamos os Álbuns, com o nome de cada uma, concluídos e devidamente
apresentáveis e gravados numa pen para cada uma. “- Acabámos!”. – Gritei,
levantando os braços. Elas aninharam-se em mim. Um abraço bem apertado,
roçando os corpos e trocando beijos bem molhados e quentes.
“- Isto merece um brinde!” –
Disse ainda. “- Com champanhe?” – Perguntou Caty com humor. “- Com champanhe
e Jacuzzi.” – Respondi. Olharam-me um pouco perplexas, mas a ideia foi
avante. Levámos uma garrafa de um bom champanhe para o Jacuzzi, que abrimos
apenas dentro dele. Depois de as servir, enchi também o meu copo e pousei a
garrafa sobre o patamar circundante. Brindámos, tilintando os copos. “- Aiii,
as bolhinhas saem pelo nariz…”. – Queixou-se Cris. Mas bebemos, esvaziando o
primeiro e vários copos seguidos, sempre com brindes apropriados ou sem
nexo, rindo por tudo e por nada. As minhas pernas estavam entre as delas,
ligeiramente fletidas. Fui esticando-as, aos poucos, até ficar com os dedos
grandes dos pés a roçar as vaginas. À medida que iam sentindo deixaram-se
escorregar um pouco para dentro do Jacuzzi, fazendo com que o dedo as
penetrasse mais. Fiz o mesmo para entrar mais nelas. Momentos depois, numa
espécie de dança, contorcionismo, entre os brindes e as gargalhadas, foram
ficando excitadas, beijaram-se e acariciaram mutuamente os seios, até, em
coro, gritarem vários orgasmos. Retomaram os copos que haviam pousado, como
para retemperar forças e intimaram-me, com ar sério, a levantar-me. Fiquei
de pé, perante elas, com o pénis bem levantado, em suspense. Aproximaram-se
as duas, ficando de joelhos. À vez ou em simultâneo, foram-me chupando o
pénis e os testículos. Fiquei sem fala. O meu tesão subiu vertiginosamente.
“- Estou quase…”. – Avisei. “- Dá-me a mim.” – Disse Caty, substituindo
Cris. “- Dá todo.” – Completou Cris, que me lambia os testículos. Vim-me,
como acho que nunca me havia acontecido. Caty esperou, sempre com o meu
pénis na boca, até lhe afastar a cabeça. Depois aproximou-se de Cris, que
entreabriu os lábios. Beijaram-se, entrelaçando as lingas e saboreando o meu
sémen, engolindo-o aos poucos, deixando escapar uns fiapos que escorreram
pelos queixos, limpos por mútuas lambidelas. Voltei a meter-me na água,
esgotado, mas deliciado por aquele momento. Beijamo-nos os três longamente,
corpos bem apertados, enrodilhados por um abraço de água fervilhante. Umas
tostas, compota, sumo e leite, foram a ceia. A noite foi repousante.
Acordei antes delas, já a luz
do sol se adivinhava, entrando pelas janelas verticais de cada lado da
cabeceira da cama, por entre as frinchas dos estores elétricos. Levantei
ligeiramente ambas, deixando a luz entrar a meia altura do quarto. Olhei
para Caty e Cris, de um e outro lado de mim. Mais lindas ainda com os feixes
de luz que pareciam iluminar os seus seios descobertos. Lambi levemente os
mamilos de Cris que apenas inspirou mais profundamente. Fiz o mesmo a Caty.
Nem se mexeu, tão profundo era o seu sono. Mas, por qualquer razão,
voltou-se ficando de barriga para baixo e a cabeça inclinado para Cris.
Coloquei uma perna de cada lado dela, deixando o meu pénis escorregar
devagar, até junto da vagina, por entre as pernas semiabertas e percorri-lhe
o dorso levemente com a língua. Fez um movimento para se voltar de novo, mas
percebeu que estava sob o meu corpo. Sentindo o meu pénis abriu um pouco
mais o angulo, permitindo-me entrar. Empurrei-o devagar, dando-lhe tempo de
lubrificar e deixá-lo escorregar naturalmente. Um “ai” de Caty fez-me parar
e pedir desculpas, enquanto Cris acordava estremunhada. “- Já a fornicar?
Não perdem tempo.” – Disse Cris a rir. Afastei mais as pernas de Caty e
passei as minhas para o interior delas. Fi-la ficar de quatro, puxando-a
pela cintura. Passei a mão na vagina, sentindo-a completamente molhada. Meti
de novo o pénis, empurrando-o até ao fundo, agora sem qualquer queixa.
Fiquei parado, enquanto ela batia-me com as nádegas, ora devagar ora mais
depressa, beijando Cris que se colara a nós. Puxei Cris de modo a que
ficasse também de quatro, metendo-lhe o polegar esquerdo na vagina e
esfregando-lhe o clitóris com os outros dedos. Aos poucos a minha mão foi
ficando humedecida. Ambas esfregavam as lingas com a cabeça inclinada uma
para a outra. Caty estava prestes a atingir o orgasmo, intensificando e
dando mais força aos movimentos, levantou a cabeça e soltou um grito
prolongado, parando, mas enterrando o pénis ainda mais fundo com a vagina a
estremecer ao longo as paredes…
“- Fode-me agora!” – Exigiu
Cris. Troquei. Enquanto Cris enterrava o meu pénis pela vagina e iniciava os
movimentos de vai vem, meti o polegar direito em Caty, fazendo movimentos
lentos com os dedos, rodando o polegar dentro da vagina e com os restantes
acariciando levemente o clitóris e os lábios vaginais. Cris veio-se
demoradamente, gemendo, gritando, esfregando-se em mim, como se quisesse
arrancar o meu pénis e ficar com ele para sempre dentro dela. Senti que Caty
estava a ter outro orgasmo, agora mais suave, não correspondendo com a mesma
intensidade às lambidelas de Cris na sua cara e na boca. Pedi-lhes para se
deitarem de novo, de barriga para cima. Ficaram a acariciar-se uma à outra,
enquanto, de joelhos, me masturbava, olhando para elas e elas para mim,
ainda com desejo, agora do meu esperma. Esporrei-me nas mamas de Cris,
depois na de Caty e, alternadamente, até não ter mais que umas pequenas
gotas. Elas massajaram as mamas com o meu esperma, levando as mãos à boca,
lambendo-as com a língua. Deitei-me de novo no meio delas, que juntaram o
seu corpo ao meu, besuntando-me também com o meu próprio esperma e limpando
os restos que o pénis ainda reservava.
Tomámos um bom duche a três,
ensaboando-nos mutuamente. Com algumas carícias pelo meio, que iam lançando
de novo algum fogo. Baixando-me um pouco, meti o polegar na vagina de Cris
estendendo a mão pelo meio das pernas, alcançando-lhe o ânus com o indicado.
Introduzi um pouco e Cris gemeu mais alto. Meti mais, até pelo menos metade,
movimentando os dedos introduzidos. Cris parecia ter enlouquecido. “- Faltou
isso. André. Gostamos de coito anal.”. Cris gritou de prazer, enrouquecida,
enquanto tomada por um orgasmo avassalador. Desliguei o chuveiro do lado
direito e levei Caty para aí, induzindo-a a inclinar-se para a frente,
apoiando as mãos nas torneiras. Voltado para as nádegas dela, com Cris
encostada nas minhas, passei-lhe várias vezes a mão direita na vagina,
humedecendo-lhe o ânus, ao mesmo tempo que lhe metia um pouco do polegar,
até sentir que podia introduzir o pénis, já duro desde que Caty me anunciara
o gosto pelo coito anal. Meti devagar, empurrando sempre. Cris esfregava a
vagina nas minhas nádegas e as mamas nas minhas costas. Caty gritava,
pedindo que enterrasse mais. Com os três em movimentos loucos, o orgasmo de
Caty percorria-nos a todos, tomando conta dos nossos corpos. Anunciei que
estava quase… Caty gritou: “- Vem-te todo, todo, no meu cu! Vem.… todo...
agora!.” E viemos todo, toda, todos. Até Cris. O meu orgasmo foi único,
sentido o meu esperma escorrendo pelo ânus dela adentro… quente,
transbordando depois e escorrendo pelas pernas dela abaixo… Ainda o deixei
dentro uns minutos debruçado sobre Caty e Cris sobre mim. Exaustos. Caty com
cãibras nos braços. Fomo-nos recompondo aos poucos.
Finalmente, decidimos tomar
o pequeno-almoço e pôr-nos a caminho de Lisboa. Tico e Teco, com uma
expressão triste e ganindo baixinho, acompanharam-nos até ao portão. Antes
de o fechar, saí do carro, agachei-me e abracei ambos, fazendo-lhe festas.
Caty e Cris fizeram o mesmo. Finalmente despedimo-nos dos cães, já com
alguma saudade deles, dos momentos bons que passámos nesse fim-de-semana.
Talvez prenúncio de outros bons momentos que viriam.
Avelino Rosa
Odivelas, 05-04-2014 |